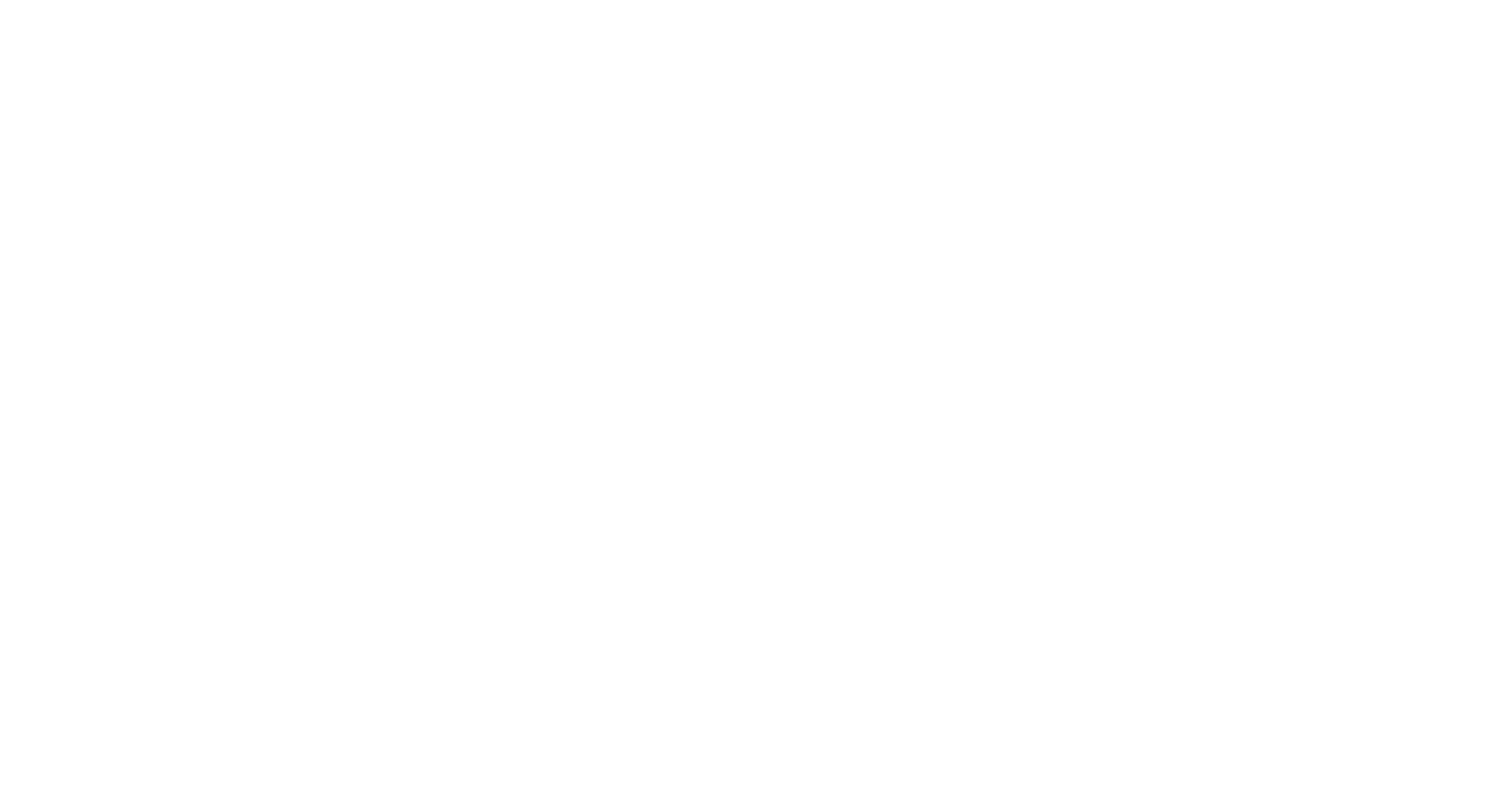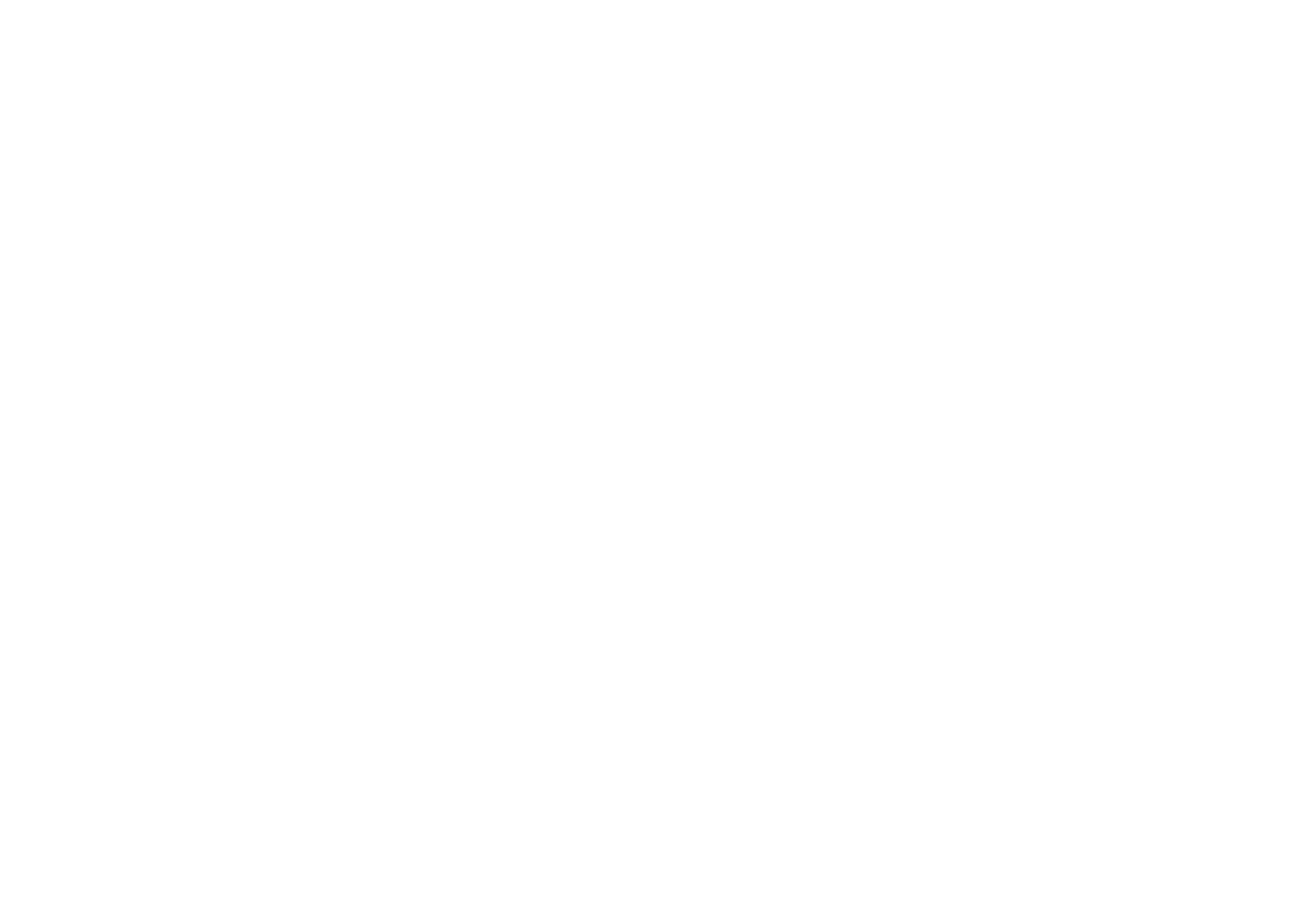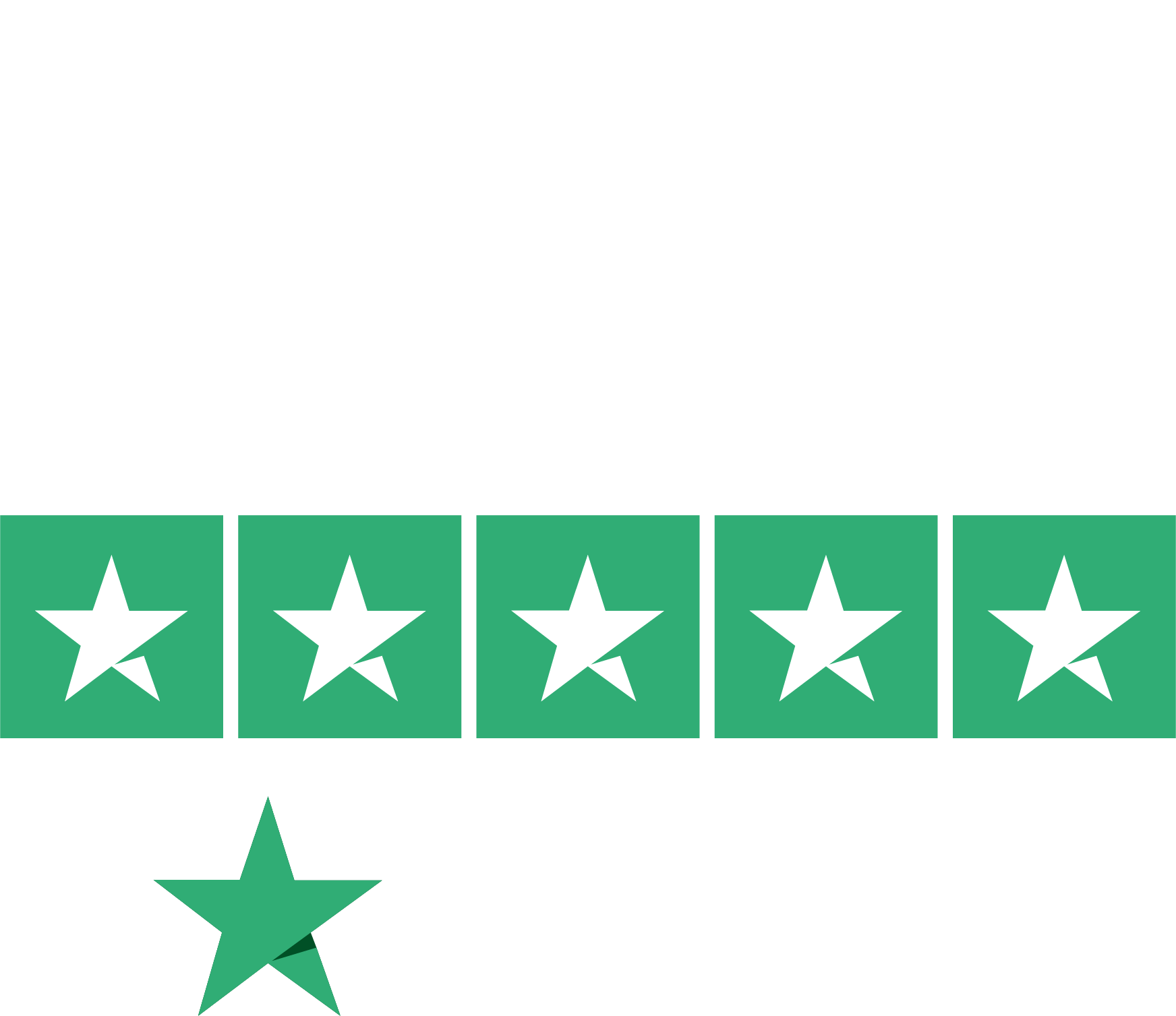Qualificação universitária
A maior faculdade de Medicina do mundo”
Porquê estudar no TECH?
Este Advanced master irá proporcionar-lhe uma atualização abrangente na área da TECH, aprofundando os últimos avanços nas urgências pediátricas, na pediatria hospitalar e nos cuidados primários"

De todas as áreas de saúde existentes, a pediatria é uma das que tem sofrido maiores alterações nos últimos anos. Os recentes avanços científicos no tratamento de numerosas patologias e a atualização dos protocolos de atuação em áreas como as urgências fizeram com que a pediatria incorporasse novas técnicas de diagnóstico e de tratamento. Assim, o especialista deve estar a par destes novos procedimentos para dispor dos métodos
e procedimentos mais atualizados.
Por esta razão, este programa foi concebido para os atualizar imediatamente em numerosos domínios da saúde. Assim, ao longo deste Advanced master, o pediatra poderá aprofundar temas como o tratamento da criança gravemente doente fora da unidade de cuidados intensivos pediátricos, o derrame pleural parapneumónico ou a esofagite eosinofílica e a sua relação com a doença celíaca.
Além disso, terá à sua disposição toda a evidência científica na abordagem das crises febris e parainfeciosas, bem como a patologia respiratória do recém-nascido e a síndrome de reabsorção incompleta do líquido pulmonar. No entanto, esta certificação não se fica por aqui e oferece as últimas inovações em questões como a atual biossegurança nos laboratórios de microbiologia para a manipulação de amostras de diferentes vírus.
Desta forma, o especialista terá acesso aos conhecimentos mais avançados enquanto desfruta de uma metodologia de aprendizagem 100% online que lhe permitirá trabalhar enquanto estuda, sem interrupções nem horários rígidos. Além disso, terá acesso ao corpo docente mais especializado, composto por médicos com uma vasta experiência, que utilizará numerosos recursos multimédia para acelerar o processo de ensino.
Atualize-se graças à metodologia online da TECH, que lhe permitirá estudar enquanto continua a desenvolver o seu trabalho profissional sem interrupções ou horários rigorosos"
Este Advanced master em Pediatria Clínica conta com o conteúdo científico mais completo e atualizado do mercado. As suas principais características são:
- O desenvolvimento de casos práticos apresentados por especialistas em pediatria
- O conteúdo gráfico, esquemático e eminentemente prático proporciona informações científicas e práticas sobre as disciplinas essenciais para a prática profissional
- Exercícios práticos onde o processo de autoavaliação pode ser levado a cabo a fim de melhorar a aprendizagem
- Ênfase especial nas metodologias inovadoras da medicina e pediatria
- Lições teóricas, perguntas ao especialista, fóruns de discussão sobre questões controversas e atividades de reflexão individual
- A disponibilidade de acesso ao conteúdo a partir de qualquer dispositivo fixo ou portátil com ligação à Internet
Nesta certificação, terá à sua disposição os melhores recursos didáticos: procedimentos em vídeo, resumos interativos, master classes... Tudo para facilitar o seu processo de aprendizagem"
O corpo docente inclui profissionais da área da pediatria, que trazem a experiência do seu trabalho para este Advanced master, bem como especialistas reconhecidos das principais sociedades e universidades de prestígio.
Graças ao seu conteúdo multimédia, desenvolvido com a mais recente tecnologia educacional, o profissional terá acesso a uma aprendizagem situada e contextual, ou seja, um ambiente de simulação que proporcionará um estudo imersivo programado para se formar em situações reais.
A conceção deste curso baseia-se na Aprendizagem Baseada nos Problemas, através da qual o instrutor deve tentar resolver as diferentes situações da atividade profissional que surgem ao longo do curso académico. Para tal, o profissional contará com a ajuda de um sistema inovador de vídeo interativo desenvolvido por especialistas reconhecidos.
A TECH permitir-lhe-á aprofundar, através deste Advanced master, temas como a doença de Crohn ou a redução da parafimose, sempre em pacientes pediátricos"

Um corpo docente composto por profissionais no ativo acompanhá-lo-á ao longo de todo o Advanced master, garantindo-lhe a atualização que procura"
Porquê estudar no TECH?
A TECH é a maior universidade digital do mundo. Com um impressionante catálogo de mais de 14.000 programas universitários, disponíveis em 11 idiomas, a TECH se posiciona como líder em empregabilidade, com uma taxa de inserção profissional de 99%. Além disso, conta com um vasto corpo docente formado por mais de 6.000 professores de prestígio internacional.

Estude na maior universidade digital do mundo e garanta seu sucesso profissional. O futuro começa na TECH”
A melhor universidade online do mundo de acordo com a FORBES
A conceituada revista Forbes, especializada em negócios e finanças, destacou a TECH como «a melhor universidade online do mundo». Foi o que afirmou recentemente em um artigo de sua edição digital, no qual faz referência à história de sucesso dessa instituição, «graças à oferta acadêmica que oferece, à seleção de seu corpo docente e a um método de aprendizagem inovador destinado a formar os profissionais do futuro».
Um método de estudo inovador, uma equipe de professores de renome e sua orientação prática: o segredo do sucesso da TECH.
Os planos de estudos mais completos do panorama universitário
A TECH oferece os planos de estudos mais completos do cenário universitário, com programas que abrangem conceitos fundamentais e, ao mesmo tempo, os principais avanços científicos em suas áreas específicas. Além disso, esses programas são continuamente atualizados para garantir aos alunos a vanguarda acadêmica e as habilidades profissionais mais procuradas. Dessa forma, os programas da universidade proporcionam aos seus alunos uma vantagem significativa para impulsionar suas carreiras rumo ao sucesso.
A TECH conta com os planos de estudos mais completos e intensivos do panorama universitário atual.
A melhor equipe de professores top internacional
A equipe de professores da TECH é composta por mais de 6.000 profissionais de renome internacional. Professores, pesquisadores e executivos seniores de multinacionais, incluindo Isaiah Covington, técnico de desempenho do Boston Celtics; Magda Romanska, pesquisadora principal do Harvard MetaLAB; Ignacio Wistumba, presidente do departamento de patologia molecular translacional do MD Anderson Cancer Center; e D.W. Pine, diretor de criação da revista TIME, entre outros.
Especialistas de renome internacional, especializados em vários ramos da saúde, tecnologia, comunicação e negócios, fazem parte da equipe de professores da TECH.
Um método de aprendizado único
Um método de aprendizado único A ##UNIVERS IDAD_SIGLAS## é a primeira universidade a utilizar o Relearning em todos os seus cursos. É a melhor metodologia de aprendizagem online, credenciada com certificações internacionais de qualidade de ensino, fornecidas por agências educacionais de prestígio. Além disso, esse modelo acadêmico disruptivo é complementado pelo “Método do Caso”, configurando assim uma estratégia única de ensino online. Também são implementados recursos didáticos inovadores, incluindo vídeos detalhados, infográficos e resumos interativos.
O TECH combina o Relearning e o Método do Caso em todos os seus programas universitários para garantir um excelente aprendizado teórico e prático, estudando quando e onde você quiser.
A maior universidade digital do mundo
A TECH é a maior universidade digital do mundo. A TECH é a maior universidade digital do mundo. Somos a maior instituição educacional, com o melhor e mais amplo catálogo educacional digital, 100% online, abrangendo a grande maioria das áreas do conhecimento. Oferecemos o maior número de cursos próprios, pós-graduações e graduações oficiais do mundo. No total, são mais de 14.000 programas universitários em onze idiomas diferentes, o que nos torna a maior instituição de ensino do mundo. No total, são mais de 14.000 programas universitários em onze idiomas diferentes, o que nos torna a maior instituição de ensino do mundo.
A TECH conta com o mais extenso catálogo de programas acadêmicos e oficiais do mundo e está disponível em mais de 11 idiomas.
Google Partner Premier
A gigante da tecnologia Google concedeu TECH o selo Google Partner Premier. Esse reconhecimento, disponível apenas para 3% das empresas no mundo, destaca a experiência eficaz, flexível e adaptada que a universidade oferece aos seus alunos. O reconhecimento não apenas credencia o máximo rigor, desempenho e investimento nas infraestruturas digitais da TECH, mas também coloca essa universidade como uma das empresas de tecnologia mais avançadas do mundo.
O Google colocou a TECH entre os 3% das principais empresas de tecnologia do mundo, concedendo-lhe o selo Google Partner Premier.
A universidade online oficial da NBA
A TECH é a Universidade Online Oficial da NBA. Por meio de um acordo com a maior liga de basquete do mundo, oferece aos seus alunos programas universitários exclusivos, além de uma grande variedade de recursos educacionais voltados para o negócio da liga e outras áreas da indústria esportiva. Cada programa tem um currículo exclusivo e conta com palestrantes convidados excepcionais: profissionais com histórico esportivo distinto que oferecerão seus conhecimentos sobre os tópicos mais relevantes.
A TECH foi reconhecida pela NBA, a principal liga de basquete do mundo, como sua universidade online oficial.
A Universidade mais bem avaliada por seus alunos
O site de avaliação Global score posicionou a TECH como a universidade mais bem avaliada do mundo por seus alunos. Esse portal de avaliações, o mais confiável e prestigiado, pois verifica e valida a autenticidade de cada opinião publicada, concedeu à TECH a sua classificação mais alta, 4,9 de 5, com base em mais de 1000 avaliações recebidas. Esses números colocam a TECH como referência absoluta de universidade internacional.
A TECH é a universidade mais bem avaliada do mundo por seus alunos.
Líderes em empregabilidade
A TECH se consolidou como a universidade líder em empregabilidade. 99% dos seus alunos conseguem um emprego na área que estudaram em até um ano após a conclusão de qualquer programa da universidade. Um número semelhante obtém uma melhoria imediata em sua carreira. Isso é possível graças a uma metodologia de ensino baseada na aquisição de competências práticas, essenciais para o desenvolvimento profissional.
99% dos alunos da TECH são empregados em menos de um ano após a conclusão de seus estudos.
Advanced Master em Pediatria Clínica
Descubra o Advanced Master em Pediatria Clínica da TECH Universidade Tecnológica, concebido para formar profissionais especializados no cuidado integral da saúde infantil. Num mundo cada vez mais virtual, a formação em pediatria clínica é essencial para prestar cuidados de qualidade às crianças. No nosso programa, irá adquirir conhecimentos especializados no diagnóstico, tratamento e acompanhamento das patologias mais comuns na população pediátrica, bem como na prevenção e promoção da saúde infantil. Os nossos especialistas proporcionar-lhe-ão uma formação virtual de vanguarda, aplicando as mais recentes ferramentas e abordagens pedagógicas, para que possa adquirir as competências necessárias para enfrentar os desafios clínicos e profissionais no tratamento de crianças.
Seja um especialista em pediatria clínica
Através deste Advanced Master da TECH Universidade Tecnológica, irá familiarizar-se com os principais problemas de saúde que afetam as crianças, desde o período neonatal até à adolescência. Aqui, aprenderá a gerir casos clínicos pediátricos complexos, a interpretar testes laboratoriais ou estudos de imagem e a desenvolver planos de tratamento individualizados. Não espere mais para melhorar a sua futura carreira numa das áreas mais procuradas no setor médico: a pediatria clínica. Inscreva-se já!